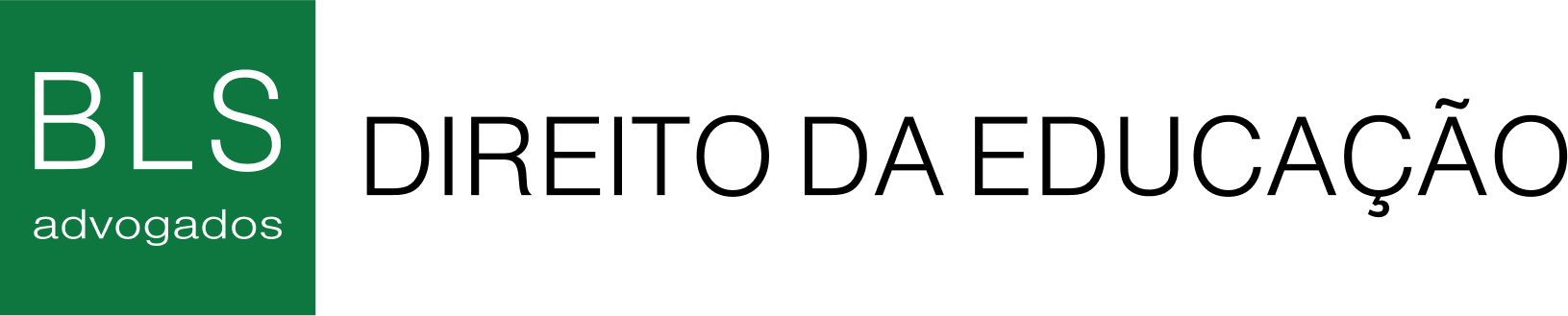Fontes e Modelos do Direito da Educação

 Ludwig Gloss (1851-1903), Een geleerde in zijn studeerkamer (Um acadêmico em sua câmara de estudo)
Ludwig Gloss (1851-1903), Een geleerde in zijn studeerkamer (Um acadêmico em sua câmara de estudo)
Sumário: 1. Introdução. 2. A teoria das fontes e seus problemas. 3. A concepção ordenamental do Direito. 4. Espécies de fontes do Direito da Educação. 5. Conflito de normas e diálogo das fontes. 5.1. Um exemplo ilustrativo: a progressão continuada no ensino fundamental. 5.2. Conclusão parcial sobre conflitos de normas e diálogos entre as fontes. 6. Conclusão – o mapa e o território.
Palavras-Chaves: Teoria das Fontes. Fontes do Direito. Diálogo das Fontes. Estrutura Escalonada da Ordem Jurídica. Direito da Educação.
- Introdução
O tema das “fontes do Direito da Educação” aponta, em princípio, a partir de uma perspectiva dogmática, para as fontes formais do direito positivo, isto é, para os nascedouros das normas jurídicas resultantes da atividade legiferante e constituinte do Estado. Ou seja, do ponto de vista dogmático, esse tema parece circunscrever-se às normas constitucionais, diplomas normativos de organismos internacionais de que o Brasil faz parte e leis infraconstitucionais editadas em níveis federal, estadual e municipal no Brasil sobre o tema da educação.
Mas, logo de início, podemos indagar: é possível compreender o Direito da Educação apenas a partir de uma perspectiva das normas jurídicas positivadas estatalmente? O que determina, efetivamente, como deve ser a educação? Basta a pena do legislador para modelar a educação? Ou as normas jurídicas positivadas fazem parte de um edifício mais amplo e em constante construção?
Neste artigo, buscamos fornecer algumas contribuições sobre essas questões.
- A Teoria das Fontes do Direito e seus Problemas
A expressão “fontes do Direito” é marcada pela polissemia. Pode ela designar “princípios de inspiração do Direito”, “causas econômicas e sociais do Direito” ou, ainda, “meios de conhecimento do Direito”. Esses sentidos da expressão devem ser compreendidos historicamente.
A sistematização científica das fontes do Direito tem início apenas recentemente, no século XIX, como resultado de substanciais transformações sociais, das relações de poder e do próprio modo de exercício do poder. É a partir da modernidade que se toma consciência de que o direito não é um dado, mas, sim, um construído. E, assim, se inicia a distinção entre a lei (ou outro diploma equivalente, como imperativo do Estado destinado a imprimir uma direção na vida jurídica), de um lado, e as causas (sociais, econômicas, filosóficas, materiais, políticas, históricas, fáticas) da lei mesma. Nesse sentido, a ciência do Direito passa a distinguir entre fontes do Direito em sentido formal e fontes do Direito em sentido material – um corte que busca separar os centros produtores do Direito em planos diferentes. As fontes formais situar-se-iam no mundo jurídico, o mundo do Dever-Ser; enquanto as fontes materiais encontrar-se-iam no mundo do Ser. Essa separação heurística visa identificar o fenômeno jurídico e distingui-lo do não-jurídico, favorecendo, assim, a previsibilidade e a segurança jurídica na decidibilidade dos conflitos.
Essa separação de planos e espécies de fontes do Direito encontra o seu auge durante o positivismo jurídico do século XX e continua sendo uma das ideias diretoras do pensamento jurídico contemporâneo. Nos quadros do positivismo jurídico, somente normas jurídicas positivadas que encontrem fundamento de validade em uma norma jurídica superior podem pertencer ao sistema jurídico e, assim, vincular os seus destinatários. Essa solução contrasta com as teorias não-positivistas que admitem uma pluralidade de centros produtores do direito, os quais incluem o Estado mas a este não se limitam. Na primeira vertente teórica, há uma estrutura escalonada de normas produzidas ou reconhecidas estatalmente; na segunda linha, há uma hierarquia de fontes, que estabelece uma gradação da positividade do Direito. Pense-se, por exemplo, na multiplicidade de respostas teóricas que surgem para lidar com a abertura do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42) para o recurso aos costumes e aos princípios gerais do direito.
Examinando-se o tema das fontes do Direito de perto, com alguma profundidade, é possível notar que não há uma conceptualização científica perfeita sobre o tema, totalmente assente no pensamento jurídico e imune a críticas e variações segundo ângulos teoréticos diferentes. Isso porque, em última análise, a fonte é um topoi, uma fórmula retórica, que funciona como diretriz de organização do Direito, mas sem acabamento lógico rigoroso. De todo modo, o pensamento jurídico continua recorrendo a esse topoi e, assim, devemos entender como trabalhar com essa fórmula.
- A Concepção Ordenamental do Direito Brasileiro
Ao prever como os conflitos civis devem ser decididos, o legislador brasileiro recorreu à ideia de “ordenamento jurídico”. Colocando essa noção em posição central, o art. 8º do Código de Processo Civil prevê:
Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
Não há uma definição na legislação brasileira de “ordenamento jurídico”, de modo que devemos traçar, brevemente, suas origens modernas na teoria do direito.*
A ideia contemporânea de “ordenamento jurídico” se origina de um monumento teórico produzido no início do século XX pelo grande jurista italiano Santi Romano – “L’ordinamento giuridico”, de 1918. É Santi Romano que, diante da crise entre dois séculos, promove uma redescoberta da complexidade do universo jurídico e a sua modelagem teórica em formas compagináveis com o direito positivo. Com uma perspectiva pluralista, que não reduz o direito à norma jurídica, Romano afirmaria que o direito é “organização, estrutura, posição da própria sociedade”, e que “o processo de objetivação, que dá lugar ao fenômeno jurídico, não se inicia com a emanação de uma regra, mas em um momento anterior; as normas não são mais do que uma manifestação, uma das suas várias manifestações”. Com essa visão ordenamental, o direito recupera sua onticidade; com essa visão ordenamental, se reconhece que o Direito nasce por baixo, i.e., nas dobras do real cotidiano das pessoas, e não de cima para baixo, sobretudo diante da crise do Estado e da tipicidade das fontes. Não se pode afirmar, entretanto, categoricamente, que o legislador brasileiro, ao elaborar o texto normativo do art. 8º do Código de Processo Civil, tenha abertamente tomado partido de uma visão pluralista e não-positivista do direito. Isso se explica pelo fato de, ao longo dos anos, no século XX, o positivismo jurídico também ter se apropriado da expressão “ordenamento jurídico”, para designar, por meio dela, um sistema ordenado de normas postas, positivadas, estatalmente.
Ou seja, a amplitude e a variação de sentidos da expressão “ordenamento jurídico” continuam presentes no pensamento jurídico brasileiro, mesmo após a promulgação do Código de Processo Civil (o qual, ainda que não tivesse o condão de modificar premissas da cultura jurídica, poderia conter uma definição estipulativa, aplicável para os fins de operatividade da lei mesma).
Enquanto fórmula retórica, a expressão “fontes do direito” também desempenhará uma função dogmática relevante para a compreensão dos impasses entre esses diferentes ângulos. E, apesar dessa abertura pluralista que a ideia de ordenamento jurídico carrega ou pode carregar, há uma categorização de fontes do Direito dotadas de maior objetividade ou positividade que não pode ser ignorada quando elaboramos o tema das fontes. É o que examinamos adiante.
- Espécies de Fontes do Direito da Educação
No bojo do Direito da Educação, de um ponto de vista dogmático, podemos destacar, ilustrativamente, as seguintes espécies de fontes:
- Constituição Federal da República, de 1988. A educação é um tema disciplinado pela Constituição em diversos dispositivos, sob diversas perspectivas. Aparece no texto constitucional como direito social (art. 6º), como objeto de competência administrativa e legislativa dos entes da Federação (União, estados e municípios, consoante arts. 22, 23 e 24); organização e princípios da educação, modo de efetivação do direito à educação (arts. 205-214), como dever da família, da sociedade e do Estado em face das crianças e adolescentes (art. 227).
- Leis federais ordinárias infraconstitucionais: Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), Lei n. 14.180/21 (institui a Política de Inovação Educação Conectada); Lei n. 14.113/21 (regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb); Lei n. 13.005/14 (aprova o Plano Nacional de Educação – PNE); Lei n. 11.947/09 (dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica); Lei n. 9.870/99 (dispõe sobre o valor das anuidades escolares); entre outras.
- Regulamentos: Decreto n. 9.057/17 (regulamenta a Lei de Diretrizes e Bases); Decreto n. 5.154/04 (regulamenta a Lei de Diretrizes e Bases); Decreto n. 3.274/99 (regulamenta a Lei de Anuidades Escolares); Decreto n. 9.099/17 (regulamenta o Programa Nacional do Livro e do Material Didático); Decreto n. 3.276/99 (dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica); Decreto n. 6.286/07 (dispõe sobre o Programa Saúde na Escola – PSE); entre outros.
- Diplomas internacionais: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); Declaração sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien, 1990); Declaração de Salamanca (Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, 1994); Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de discriminação da Guatemala (1999); Declaração de Incheon (2017); entre outras.
Além das normas promulgadas pela União e por entidades internacionais de que o Brasil participa, há, ainda, no tema da educação, as normas promulgadas pelos estados federados e pelos municípios, já que estes também possuem competência legislativa sobre a matéria (conforme estabelecido na Constituição, art. 24). Tais normas podem ser legais ou, ainda, infra legais (como é o caso das resoluções produzidas pelas secretarias estaduais de educação). E, além das normas dotadas de maior grau de positividade e objetividade (sejam produzidas pela União, estados, municípios ou organismos internacionais), temos, ainda, os costumes, a jurisprudência e os princípios gerais como fontes do Direito. Ou seja, há uma concorrência de fontes e normas sobre o tema da educação, e essa pluralidade de fontes e normas torna (i) mais complexa a tarefa de identificar diretrizes e solucionar as controvérsias que se apresentam na realidade; e (ii) mais frequentes os conflitos normativos.
- Conflito de normas e diálogo das fontes
O tema do conflito de normas (especialmente no Direito da Educação) merece um capítulo específico para sua análise, mas, desde logo, devemos apontar a insuficiência dos critérios tradicionais de solução de antinomias (conflitos normativos) no mundo contemporâneo para resolver os conflitos de normas nesse campo. Tradicionalmente, os conflitos de normas são resolvidos negando-se validade e/ou eficácia por completo a uma norma e reconhecendo-se plena e total validade e eficácia a outra norma. No campo do Direito da Educação, frequentemente, é preciso lançar mão dos chamados “diálogos das fontes”, isto é, com criatividade e imaginação jurídica, articular coerência, complementariedade e adaptação entre as fontes, para, assim, alcançar as melhores soluções. Nessas três espécies de diálogos entre as fontes, as normas são sedes de argumentos, e não imperativos únicos, exclusivos e incontrastáveis que fornecem direções inequívocas para seus destinatários.
Há vários exemplos ilustrativos dos conflitos normativos que costumam ocorrer no Direito da Educação e que são mais bem compreendidos e resolvidos pela perspectiva dos diálogos entre as fontes. Um deles diz respeito à progressão continuada dos alunos no ensino fundamental. Tratamos dele adiante.
5.1 Um exemplo ilustrativo: a progressão continuada no ensino fundamental. A progressão continuada encontra-se disciplinada, atualmente, em nível federal, pela Resolução n. 07, de 2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação. Esse ato normativo estabelece que não deverá haver repetência nos três primeiros anos do ensino fundamental. Seu art. 30, § 1º, estabelece:
Art. 30
(…)
- 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. (grifo nosso)
Em nível estadual, podemos notar que, antes mesmo da introdução da norma de 2010 retro citada, certas secretarias estaduais de educação já previam a progressão continuada no ensino fundamental. É o caso do sistema educacional do estado de São Paulo, que disciplinou a matéria por meio da Deliberação n. 09/1997 do Conselho Estadual de Educação – deliberação que foi homologada por resolução (sem número) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em 4 de agosto de 1997.
Após estudos e debates, a Deliberação n. 09/1997 foi editada pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e veicula, em seu art. 3º:
Artigo 3º – O projeto educacional de implantação do regime de progressão continuada deverá especificar, entre outros aspectos, mecanismos que assegurem:
I – avaliação institucional interna e externa;
II – avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua e cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a permitir a apreciação de seu desempenho em todo o ciclo;
III – atividades de reforço e de recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se necessárias, ao final de ciclo ou nível;
IV – meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de reconhecimento, de aproveitamento e de aceleração de estudos;
V – indicadores de desempenho;
VI – controle da freqüência dos alunos;
VII – contínua melhoria do ensino;
VIII – forma de implantação, implementação e avaliação do projeto;
IX – dispositivos regimentais adequados;
X – articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao
longo do processo, fornecendo-lhes informações sistemáticas sobre freqüência e aproveitamento escolar.
- 1º – Os projetos educacionais da Secretaria Estadual de Educação e das instituições de ensino que contem com supervisão delegada serão apreciados pelo Conselho Estadual de Educação.
- 2º – Os projetos educacionais dos estabelecimentos particulares de ensino serão apreciados pela respectiva Delegacia de Ensino.
- 3º – Os estabelecimentos de ensino de municípios que tenham organizado seu sistema de ensino terão seu projeto educacional apreciado pelo respectivo Conselho de Educação, devendo os demais encaminhar seus projetos à apreciação da respectiva Delegacia de Ensino do Estado. (grifo nosso)
Além do art. 3º da Deliberação em referência, deve-se destacar, também, o art. 1º de tal Deliberação:
Artigo 1º – Fica instituído no Sistema de Ensino do Estado de São Paulo o regime de progressão continuada, no ensino fundamental, com duração de oito anos.
- 1º – O regime de que trata este artigo pode ser organizado em um ou mais ciclos.
- 2º – No caso de opção por mais de um ciclo, devem ser adotadas providências para que a transição de um ciclo para outro se faça de forma a garantir a progressão continuada.
- 3º – O regime de progressão continuada deve garantir a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, o qual deve ser objeto de recuperação contínua e paralela, a partir de resultados periódicos parciais e, se necessário, no final de cada período letivo. (grifo nosso)
É igualmente ilustrativo, nessa matéria, o teor da Deliberação n. 155/2017 do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (homologada por resolução da Secretaria de Educação do Estado em 11 de julho de 2017), que estabelece:
Art. 9º – Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção por falta de aproveitamento, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. (grifo nosso)
Antes da prolação da referida deliberação estadual e da edição da resolução federal, entretanto, o tema da progressão continuada e da repetência já era intensamente debatido por intelectuais e acadêmicos especializados em educação e pedagogia. Vide, por exemplo, os seguintes clássicos: (i) A Pedagogia da Repetência, de Sérgio Costa Ribeiro (ex-professor do Instituto de Estudos Avançados da USP), publicado em Revista de Estudos Avançados 12(5), 1991, p. 7-21; e (ii) É Proibido Repetir, de Rose Neubauer Silva (professora da USP) e Cláudia Davis (professora da PUC-SP), publicado no caderno Educação Básica, organizado pelo MEC e pela UNESCO (Brasília, 1993); e o recente (iii) Revisitando a pedagogia da repetência, de Ruben Klein, publicado na Revista Aberto, Brasília, v. 35, n. 113, p. 243-252, jan./abr. 2022. Nesses e em diversos outros estudos, chegou-se à conclusão de que o fenômeno da repetência, em geral, observando-se o conjunto da realidade nacional, causava mais malefícios à educação dos alunos do que benefícios. Dessa feita, resumidamente, um sistema de progressão continuada em ciclos (de mais de um ano) seria, pedagogicamente, mais adequado.
O relatório preparado pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo por ocasião da elaboração da Deliberação n. 155/17 evidencia a mudança de concepção pedagógica com a adoção do sistema de progressão continuada:
“(…) Segundo esta concepção, a avaliação escolar tem uma função eminentemente pedagógica: ela permeia os processos de ensino e de aprendizagem e se coloca a seu serviço, uma vez que pretende subsidiar os professores e a escola na definição dos limites e das possibilidades de cada aluno, bem como das ações que contribuam para favorecer o seu desenvolvimento. Dessa maneira, os resultados da avaliação subsidiam a prática pedagógica dos professores, oferecendo-lhe elementos que permitem tanto a reflexão sobre sua prática (o que deu certo, o que não funcionou, porque funcionou em certos casos e não em outros, por exemplo) quanto a proposição de novas estratégias – de ensino e de avaliação. Ainda segundo essa concepção, o processo de avaliação pode oferecer importantes informações para o aluno a respeito de seus avanços, desafios e limites – e de estratégias que lhe permitam avançar. Em síntese, segundo a concepção aqui expressa, a avaliação escolar não pode ser encarada como um fim em si mesma, mas como meio para assegurar que todos os alunos atinjam os objetivos da escolaridade básica. Ao contrário do que supõe a avaliação classificatória, que se utiliza dos resultados do desempenho escolar para catalogar os alunos em “aprovados” e “reprovados”, a avaliação formativa se coloca continuamente a serviço das aprendizagens de todos os alunos. Coerentemente com essa cultura da aprendizagem, deve-se agir preventivamente, uma vez que a reprovação e a evasão resultam de um processo mais amplo do que os resultados finais de avaliação podem expressar. Neste contexto, o caráter diagnóstico da avaliação desempenha papel crucial, uma vez que oferece elementos para a identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e, o que é indispensável, para a proposição de atividades de reforço e recuperação e o redimensionamento da ação pedagógica dos professores (…)”.
A respeito da repetência no primeiro ano do ensino fundamental, o estudo supra citado de Sérgio Costa Ribeiro indica que, no sistema então vigente no início dos anos de 1990 (antes da adoção do sistema de progressão continuada), as chances de um aluno retido no primeiro ano do ensino fundamental ser aprovado ao cursar tal ano pela segunda vez correspondiam à metade das chances de aprovação de outros alunos ingressantes pela primeira vez no primeiro ano. Tal autor explica:
“(…) Os dados mostrados acima indicam que, de todos os problemas de fluxo de alunos no sistema formal de ensino, a repetência na lª série é o mais grave e preocupante, o que não tem sido devidamente levado em consideração nas pesquisas educacionais.
Cálculos realizados recentemente (6) indicam que, para o Brasil como um todo, a probabilidade de um aluno novo na lª série ser aprovado é quase o dobro do que a probabilidade daquele que já é repetente na série. Isto mostra que a repetência tende a provocar novas repetências, ao contrário do que sugere a cultura pedagógica brasileira de que repetir ajuda a criança a progredir em seus estudos. (…)
A 1ª série é feita em pelo menos dois anos, com uma crueldade no meio: uma avaliação (real ou simbólica) é realizada após o primeiro ano, onde é imputado ao aluno um fracasso que já tinha sido definido a priori pela cultura do sistema educacional (…)”.
O que se quer dizer quando trazemos tais informações é que somente após amplos e profundos estudos e intensos debates entre especialistas em educação e pedagogia é que o tema da progressão continuada foi disciplinado, normativamente, em nível federal e estadual, observando-se estudos que examinavam a realidade brasileira em geral, e não grupos específicos. A opção assumida na atividade legiferante ou regulamentadora em favor do sistema de progressão continuada não foi arbitrária ou pouco estudada. Existia e ainda existe uma realidade subjacente que é observada pelo legislador.
Os textos normativos em referência, ao tratarem do tema da progressão continuada nos 3 (três) primeiros anos do ensino fundamental, empregam uma linguagem imperativa e cogente. Isto é, o modal deôntico utilizado estabelece um dever para os estabelecimentos de ensino, e não uma faculdade.
Mesmo com determinação normativa específica, estabelecendo que não deve haver repetência nos primeiros anos do ensino fundamental, os conflitos e desentendimentos surgem – sobretudo quando pais e responsáveis desejam que seus filhos ou tutelados não progridam para a série seguinte, mas fiquem retidos na série em que se encontram e na qual – segundo o juízo dos pais e/ou responsáveis e, por vezes, educadores – não obtiveram aproveitamento adequado. Entram em jogo, então, princípios legais e constitucionais – que também se revestem de caráter normativo – que favorecem a abertura de exceções em casos concretos. Acima dos regulamentos que disciplinam procedimentos específicos, estão o direito constitucional à educação e as liberdades de aprender e ensinar. Nos casos concretos de tutela de direitos individuais, que implicam decisões com eficácia apenas entre as partes, a efetivação desses direitos e liberdades constitucionais pode colidir com regras específicas de regulamentos e, assim, exigir um olhar específico para o universo existencial de cada criança e adolescente. Em outras palavras, uma norma geral estabelecida em nível federal ou estadual, em atenção à realidade nacional, pode conflitar com outras normas em casos específicos e demandar um diálogo entre as fontes para a promoção da solução mais justa para o interesse tutelado.
5.2 Conclusão parcial sobre conflitos de normas e diálogos entre as fontes. Articular o diálogo das fontes é uma tarefa muito mais complexa do que identificar, no nível semântico, o sentido de um único texto normativo ou, ainda, resolver os conflitos normativos com as fórmulas tradicionais (tais como: “norma posterior derroga norma anterior”, “norma superior derroga norma inferior”, “norma especial derroga norma geral”). A complexidade do ordenamento jurídico – como próprio reflexo da complexidade das sociedades contemporâneas –, entretanto, reclama um trabalho mais sofisticado dos operadores do Direito. Nos sistemas complexos em que nos encontramos – tanto o jurídico quanto o social –, o pensamento sistemático tradicional encontra seus limites e abre espaço para o pensamento tópico argumentativo, o qual invoca um sopesamento das melhores razões dos argumentos em jogo em cada situação. Daí porque as normas passam a funcionar não simplesmente como diretrizes inequívocas, mas como sedes de argumentos entre os quais devemos estabelecer diálogos.
- Conclusão – o mapa e o território
O tema das fontes do Direito da Educação é, como vimos, complexo, intrincado e repleto de dúvidas perenes (cujas possíveis respostas variam de acordo com a mundividência de cada ator, incluindo não somente pré-compreensões sobre o sistema social, mas também sobre o sistema jurídico). O que são fontes do Direito? O que é o ordenamento jurídico? Em que medida se pode legislar sobre a educação? As respostas a essas perguntas continuam sujeitas a reexame e reconstrução.
Sendo necessário suspender este breve estudo, vale lembrar a observação de Platão sobre a dificuldade de se estabelecer legislação sobre a educação. No capítulo VII das “Leis”, Platão afirma, pela voz do Ateniense:
“Agora que nossas crianças, meninos e meninas, nasceram, o próximo passo que se nos impõe apropriadamente é nos ocupar de sua nutrição e educação. Este é um ponto cuja omissão é inteiramente impossível, mas obviamente pode ser tratado mais adequadamente sob a forma de instrução e exortação do que sob forma de lei, visto que na vida privada e doméstica uma multiplicidade de coisas triviais é passível de execução se furtando à percepção pública, coisas que são o fruto de sentimentos individuais de dor, de prazer ou de apetites, que se predispõem a se afastar das orientações do legislador e que produzirão nos cidadãos uma multiplicidade de tendências contraditórias. Isso não é benéfico para o Estado. Se por um lado não é conveniente nem decente submeter tais práticas a penalidades determinadas pela lei em função de sua trivialidade e assiduidade, por outro a autoridade da lei escrita é solapada na medida em que os seres humanos, mediante essas trivialidades reiteradas, se habituam a ser infratores. Consequentemente, se por um lado é impossível silenciarmos diante de tais práticas, por outro é difícil legislar no que concerne a elas”.
Na trilha de Platão, parece adequado reconhecer a dificuldade de se legislar sobre o tema da educação, que se coloca no espaço e no tempo da transição da pessoa da esfera privada para a esfera pública e que varia, grandemente, de acordo com o universo existencial de cada um. Séculos depois da observação de Platão, a casa e a comunidade concreta em que nos encontramos continuam sendo cruciais para a determinação daquilo que é adequado para a educação. Daí porque, como assinala Platão, nem toda orientação do Estado deve se constituir em lei, mas, por vezes, em recomendação, conselho, exortação.
Por outro lado, no modelo de ordem jurídica e social estabelecido na Constituição Federal, o Estado é convocado a atuar ativamente na promoção e regulação da educação. Ou seja, pode-se assumir a existência de uma pluralidade de centros produtores do Direito, com o Estado no centro geométrico da positividade, ao lado (ou, acima) de outros polos que produzem expectativas normativas com menor grau de objetividade (como, por exemplo, os costumes). A tarefa do jurista de construir as fontes do direito, nesse sentido, se assemelha ao trabalho do cartógrafo que observa o território (um dado) e precisa transpor para o mapa (um construído), em linguagem técnica e simbólica, aquilo que é relevante.
Nesse contexto complexo de pluralidade de centros produtores do Direito e conflitos de normas que não se resolvem satisfatoriamente pelas técnicas tradicionais de solução de antinomias, novos modos de trabalho e de pensamento jurídico devem ser colocados em operação para mapear as fontes (em construção) e implementar adequadamente um diálogo entre as fontes mesmas do Direito da Educação.